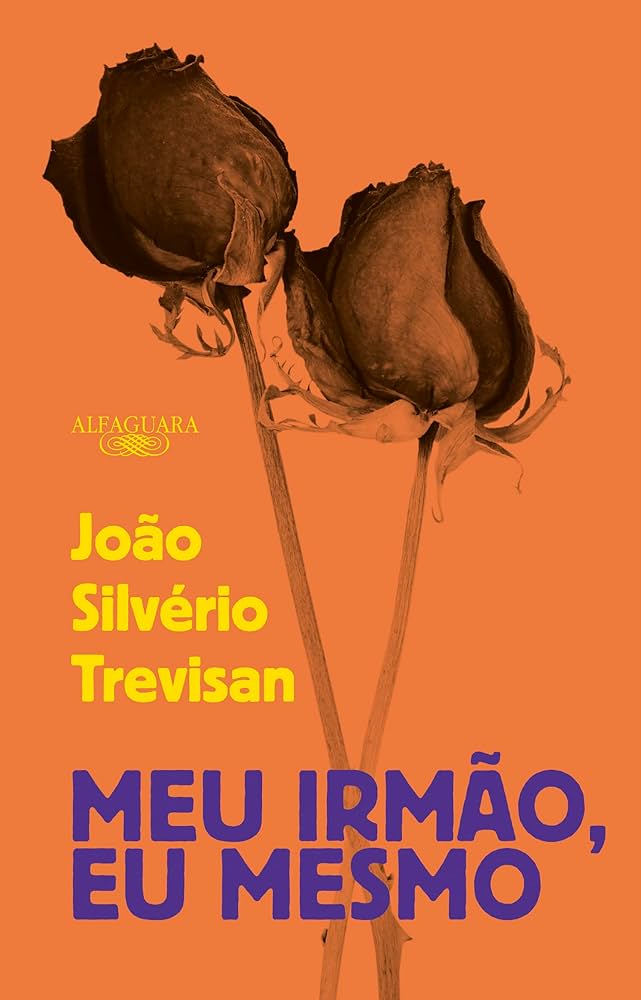João Silvério Trevisan é um desses homens gays brasileiros de que todos (e todas e todes) guardamos um pouco, seja pelo Lampião da Esquina, que criou e para o qual escreveu, seja por seus artigos na Sui Generis (uma das primeiras publicações LGBT do Brasil), seja pelo Devassos no Paraíso (uma primeira grande história da gênero-dissidência nacional), seja, por fim e talvez mais importante, por sua literatura.
Nesse mundo de estase temporal em que vivemos, às vezes perdemos a noção do que foi escrever Em nome do desejo ou o Testamento de Jônatas deixado a Davi, naqueles inícios dos anos oitenta no Brasil, e colocar em cena os amores e os prazeres homossexuais. Quem sabe tenhamos perdido a espessura de coragem de escrever Ana em Veneza (uma invenção decolonial de Mann) ou colocar a vida, os excessos e os amores no centro de livros que tratam da vida contemporânea – como em Troços e Destroços.
O Trevisan, no ano passado, soltou seu Meu irmão, eu mesmo, pela editora Alfaguara. O texto, que parece complementar e expandir o anterior, Pai, Pai, é um esforço de pensar a vida e a morte e, nesse cadinho, forja sua escritura a partir de duas pessoas-personagens: o próprio João e sua trajetória, literária e pessoal; o seu irmão Cláudio e sua história.
João, o irmão mais velho que precisa aprender o funcionamento de um pai perdido, faz essa engrenagem funcionar segundo a ordem do fim e da doença, via aids e câncer. Ora, a escritura dá conta de apresentar Trevisan como uma pessoa que vive com hiv e permanece vivo enquanto, por uma espécie de inversão das expectativas da época, o irmão Claudio sucumbe. No texto, como que numa releitura de Susan Sontag, estão os irmãos Trevisan e os estigmas das doenças reunidos, naquilo que o autor chamará de Confraria da Dor.
No Meu Irmão, eu mesmo, aparecem de maneira pungente as pessoas e as práticas daquele dispositivo da aids dos anos noventa. João, que tem o diagnóstico em 1992, descreve o périplo das investigações constantes de CD4, as terapias com Bactrim e AZT, a chegada do então coquetel, o encontro com os amigos, os silêncios e os desaparecimentos de muita gente querida. Estão no livro Daniel, Caio, Néstor, Piva, Darcy – todos como uma presença de transformação, todos contados na ambiguidade entre a produção e a interdição de viver. Estão os amores negados, as misérias diárias. Mas estão ali também o João que vive e que inventa modos para isso.
O livro é doloroso. No final, Trevisan chama o leitor à baila: se chegou até a esse final, é porque essa compaixão e essa solidariedade estavam no leitor também, um membro da tal confraria. O exercício de viver com a finitude estendida diante de todos nós, como um texto a ler sobre nós mesmos, fica explícito num poema feito para o irmão, num Natal: “amar as células loucas”.
Esse exercício de assumir aquilo que, de pharmakon, está em jogo na vida com hiv e em toda a vida – como a de Claúdio ou a da mãe de Trevisan – , ao fim e ao cabo, é também um outro modo de contar-se a si mesmo e de imaginar possibilidades de conviver com o vírus, na fragilidade do que vive com nosso corpo ou contra ele.
Por Atilio Butturi Junior
professor da UFSC – do Programa de Pós-Graduação em Linguística e do Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC – e coordenador do projeto “É só mais uma crônica”. Pesquisa o “dispositivo crônico da aids” (termo que cunhou) desde 2015. Está interessado em produzir saber e política sobre hiv e em pensar uma análise neomaterialista dos discursos.