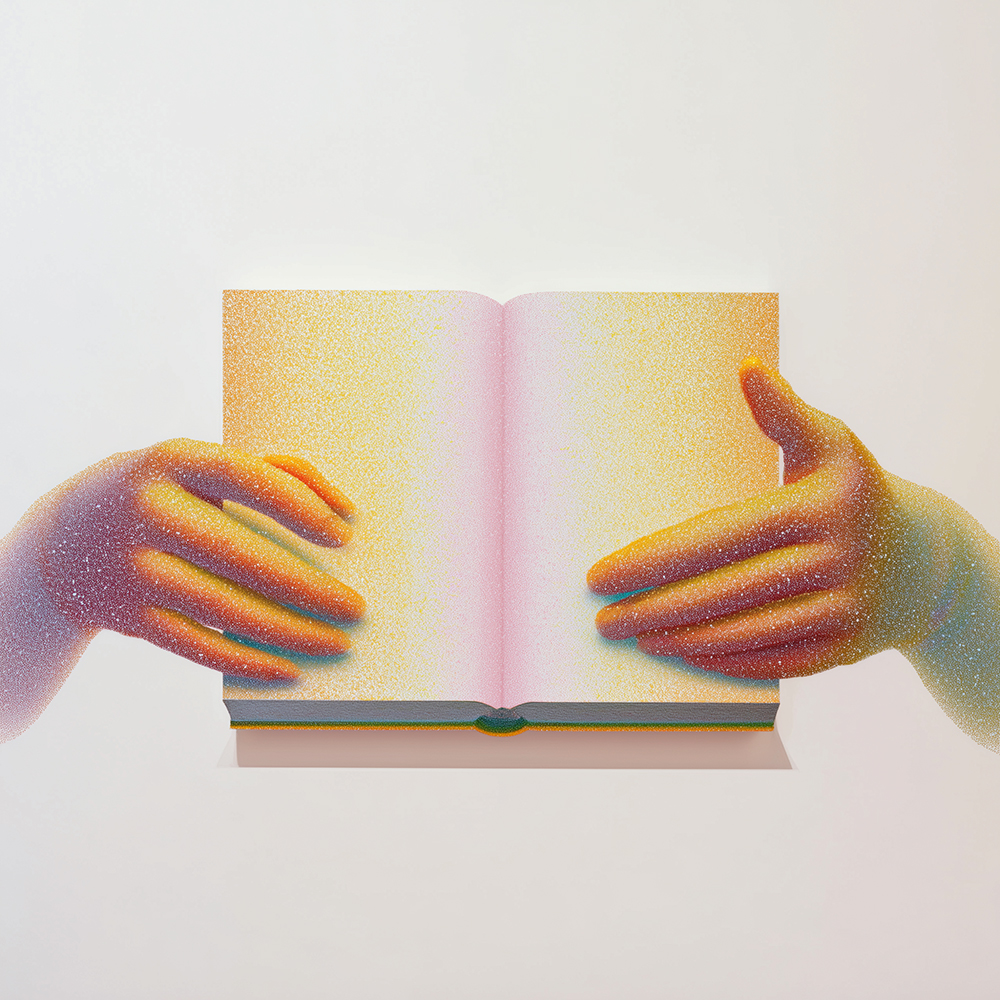Quando entrevistei Veriano Terto Junior, no tráfego humano e material intenso do aeroporto Santos Dumont, para o livro Estórias com hiv, que lançaremos em breve, impressionou-me entre todos os elementos do panorama das articulações em torno do hiv assertivamente traçados por ele, a sua crítica contundente ao potencial desmobilizador da asserção “fim da Aids” praticada pelas articulações globais (entre ela, sobretudo, a UNAIDS) e o problema de financiamento público e privado que as organizações têm enfrentado, o que põe em xeque sua sustentabilidade nos anos que virão.
Para dar conta do tamanho do problema descrito por Veriano, reproduzo dois pequenos trechos das ponderações que fez na entrevista:
“Isso aliado à falta de recursos, complexifica ainda mais, desmobiliza. E essa ideia, esse conforto de que estamos com o problema parcialmente resolvido, recentemente a gente teve esse discurso do fim da Aids, propalado aí pela UNAIDS, pelas Nações Unidas, um discurso equivocado porque isso começou em 2015-2016 e a gente chega quase dez anos depois, por exemplo, no Brasil tem 43 mil novos casos de infecção por hiv entre população jovem em 2023 e, em 2024, segundo o boletim lançado agora em dezembro de 2024, um crescimento de 4,5% de casos de hiv entre essa população. Taxas preocupantes de detecção de casos de hiv altos no Acre, em Rondônia, em volta de 17, 18%. A região Amazônia está muito difícil, muito complicada. Então assim, não podemos falar de fim da Aids, em eliminação da epidemia. Nós não temos nenhuma capital brasileira, depois de 28 anos de acesso universal a medicamentos, que conseguiu acabar com a transmissão vertical, isso também é muito sério. “
“E o discurso esse de falar que vamos eliminar até 2030, que estamos no caminho, que o programa de medicamentos está estabelecido, isso é também complicado porque tudo isso dificulta a mobilização, afinal, se já é um problema resolvido… E inclusive o acesso a fundos por parte das ongs, porque, tu vai pegar dinheiro onde? Tu chega em alguma fundação, em algum lugar, “bom o problema está resolvido”, vamos botar na agenda do clima que está muito mais premente, ou na moda, ou em outra causa.“
Desde a entrevista, em dezembro de 2024, me lancei a tentativas de obter informações mais claras sobre isso que Veriano chamou de dificuldade de acesso a fundos por parte das ongs e que também via aparecer nos discursos e no cotidiano das instituições com as quais o projeto dialoga. A vidas com hiv, sobretudo aquelas mais vulneráveis, deixaram de ser um problema? Todas as respostas já foram dadas? E como acessar materialmente o déficit de financiamento experienciado nos últimos anos?
As perguntas seguem, mas indicativos históricos e contemporâneos muito consistentes foram dados pelo documento Uma Análise Crítica das Tendências de Financiamento Internacional para Atividades em HIV e AIDS, 1981-2022, lançado pela ABIA agora em julho e autorado por Jane Galvão, Veriano Terto Jr. e Richard Parker (link aqui).
Nunca é demais relembrar o histórico e o papel fundamental cumprido pela ABIA em seus 35 anos de existência. A ong, fundada em 1987 por Herbert Daniel, no Rio de Janeiro, é uma referência na resposta comunitária ao hiv e à aids, conjugando pesquisa, ações de prevenção e conscientização e mobilização.
O estudo profuso sobre as tendências em financiamento em hiv/aids iniciou-se em 2022, e tinha, entre outros objetivos, pautar os investimentos recebidos por ongs brasileiras, mas, como a introdução indica, pela abrangência de seu escopo passou a tematizar o financiamento da resposta global à pandemia. O período encoberto é de 1981, quando da identificação dos primeiros casos de pessoas com hiv – até o fim da presidência de Jair Bolsonaro. O texto é seguido de um posfácio, destinado à discussão dos impactos da reeleição de Trump nos EUA e o problema de saúde pública global que se deu a partir daí.
Não é tarefa fáci o acesso aos dados de financiamento. Como o documento afirma, apesar de utilizar de fontes variadas, como documentos lançados por instituições doadoras e por organizações, como o UNAIDS, são fragmentadas sobretudo as informações concernentes aos recursos destinados à América Latina. As questões de financiamento são discutidas nas fronteiras temporais que delimitam diferentes momentos das respostas à epidemia, as chamadas cinco ondas:
- 1981 a 1990 – trata-se dos primeiros anos da epidemia, quando as respostas globais se davam menos em termos de políticas estruturantes e formais e mais em ações de solidariedade das pessoas diretamente afetadas pelo hiv. Período, portanto, de busca por políticas institucionais.
- 1991 a 2000 – período de crescimento significativo dos recursos financeiros destinados à resposta ao hiv, que antecede a ampliação das respostas mais significativas e globais à epidemia, que datam do período posterior.
- 2001 a 2010 – momento marcado pela expansão da resposta global, desde o campo da saúde global, em que se adensa a lógica neoliberal de investimento da saúde (as parcerias público-privadas, por exemplo) e quando se fortalecem outros atores do campo da filantropia privada, o que o texto chama de filantrocapitalismo.
- 2011 a 2019 – período marcado pelo conceito de “fim da Aids” e pelo financiamento misto, ou seja, público e privado. Importante marcar como a “vitória contra a Aids”, declarada por grandes organizações em torno do hiv acabaram por deslocar o financiamento para hiv e aids para outras pautas.
- 2020-2022 – período caracterizado como de crises superpostas em que, à preexistente pandemia de hiv, somam-se catástrofes climáticas, humanitárias e de saúde (Covid-19). Sobre o financiamento no momento, tem-se a concentração de de recursos em poucos doadores e maior dependência da indústria farmacêutica.
- 2025 – a reeleição de Trump, ainda que recente, já traz indícios de possibilidade d perdas irreparáveis dos ganhos sustentados em quatro décadas de enfretamento da epidemia, com os cortes de financiamento já efetuados pelo governo americano.
Para além da caracterização, breve, que fazemos aqui de cada uma das ondas cuja periodização estruturam a análise das tendências de financiamento feita pela publicação da ABIA, cabe a leitura detalhada de cada um dos momentos da epidemia tal como consta no documento por sua diligente descrição – ainda que lacunar, dada a dificuldade de encontrar fontes, como já dito aqui – (i) dos principais elementos que caracterizam aquele determinado momento histórico da pandemia de hiv, periodicizados; (ii) das fontes de financiamento, dos projetos e dos valores praticados, ou pelo menos aquelas que possuem algum registro acessível; (iii) das principais instituições brasileiras beneficiárias dos financiamentos.
Um pequeno adendo sobre o período marcado como o “o fim da aids”, por sua incidência no momento contemporâneo naquilo que concerne ao financiamento das organizações sociais. Como se sabe, “o fim da Aids” está para a meta, adotada pelas Nações Unidas no ano de 2015, conjuntamente com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de acabar com a epidemia de aids, entre outras epidemias, até 2030, o que se dá de modo integrado à meta 90-90-90, ou seja, de que até 2020, 90% das PHIV deveriam estar diagnosticadas; dessas, 90% deveriam estar em TARV; e, das pessoas em TARV, 90% deveriam estar em supressão viral.
Algumas iniquidades locais marcam o alcance global do “fim da Aids”. A primeira é a de que, por exemplo, entre os 20 países que mais receberam financiamento filantrópico para hiv/aids, não consta nenhum país da América Latina. Outro dado importante levantado pela publicação indica que é justamente nos anos de auge da campanha do fim da Aids pela UNAIDS (2015 e 2016), que a maioria dos principais países doadores começou a fazer reduções robustas em seu financiamento. A promessa da fim da aids, com seus pontos cegos, e avaliação excessivamente otimista da epidemia, impactou diretamente a rarefação de financiamento e, cada vez mais próximos de 2030, não restaram cumpridas as metas 90-90-90, que se direcionavam a 2020, e tampouco algo da ordem do fim da epidemia.
Por Nathalia Müller Camozzato
professora, doutora em Linguística e graduada em Letras – Português pela UFSC. Atualmente, realizada Pós-doutoramento com bolsa FAPESC, no Programa de Pós-Graduação em Linguística da ufsc. Tem buscado alinhavar a pesquisa à práticas por vidas mais vivíveis e justas para todas pessoas., especialmente aquelas vulnerabilizadas por questões como raça, gênero, sexualidade e variabilidade funcional. Entre seus interesses estão o discurso e o emaranhado entre o humano e o não/outro que humano, o pensamento localizado e as estórias como estratégia fabulativa orientada para o futuro.